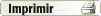|
Podemos deixar de ser colônia?
Lúcio Flávio Pinto
- Junho 2012
Reproduzo aqui um texto — ainda inédito — que escrevi, em setembro de 2005. Os processos judiciais, mais uma vez, me retendo em Belém, me impediram de viajar. Eu iria fazer palestra em Parauapebas, o município que mais exporta no país, por exportar minério de ferro, item primeiro do comércio exterior brasileiro atualmente. Não podendo ir, mandei o texto. Espero que ainda seja útil, sete anos depois, para ativar nosso debate sobre a Vale, a dona de verdade de Parauapebas, do Pará e de boa parte do Brasil.Quase 10 anos atrás um concorrido debate foi realizado em Marabá para discutir o Projeto Salobo. Três locais disputavam o projeto de cobre da Companhia Vale do Rio Doce, na época estimado em 2 bilhões de dólares: Rosário do Oeste, no Maranhão, Parauapebas e Marabá, no Pará. No meio do debate o então prefeito de Marabá, Haroldo Bezerra, hoje presidente da Cosanpa, informou que na véspera desse debate toda a diretoria da Salobo Metais, empresa formada pela CVRD e a multinacional Anglo American para a execução do projeto, viera do Rio de Janeiro, em pleno sábado, para discutir abertamente a questão. Apesar da iniciativa da diretoria da Salobo, o encontro terminou sem que os marabaenses pudessem saber onde ficaria a fábrica de cobre. O problema, conforme então mostrei ao prefeito, é que eles haviam deixado de fazer a pergunta mais importante para esclarecer essa dúvida: se a quantidade de cobre contido na jazida seria suficiente para garantir uma determinada produção da fábrica durante o tempo de vida útil da unidade industrial, de 20 anos. Se não houvesse essa tal quantidade de cobre contido, a fábrica teria que ser instalada no litoral e não no sertão. Pelo simples fato de que a empresa não iria transportar concentrado de cobre do porto de São Luís até Marabá ou Parauapebas, por mais de 800 quilômetros de distância, e trazer de volta catodo de cobre. Tecnicamente, o projeto não podia ficar no Pará. Teria que ser implantado no Maranhão mesmo. Essa era a informação essencial para eliminar o mistério. Mas provavelmente a diretoria da Salobo Metais sabia que essa pergunta vital não lhe seria feita pelos marabaenses. Cito esse episódio para mostrar a importância da informação ao alcance daqueles que, no dia a dia, estão tomando decisões de grande repercussão, por isso mesmo de valor histórico. Se eu estivesse no debate daquele sábado, teria feito a pergunta que só pude apresentar, aos participantes desse encontro, no dia seguinte, no domingo, quando a diretoria da empresa já tinha voltado ao Rio de Janeiro. A informação deixara de ter a importância que teria se estivesse disponível na agenda dos cidadãos. Volto a esse fato porque exatamente hoje, quando devia estar em Parauapebas para cumprir o compromisso assumido com os organizadores deste encontro, vejo-me obrigado a permanecer em Belém. Com 18 processos ativos propostos contra mim no fórum da capital, tornei-me quase um cativo de prisão domiciliar não declarada. Os autores dessas ações não contestaram publicamente o que divulguei em meu Jornal Pessoal a respeito dos temas que os incomodaram e que os teriam ofendido. Simplesmente recorreram à justiça, alegando crime de imprensa. Não lhes interessa enfrentar a opinião pública. O que querem é calar um jornalista incômodo. O que objetivam é continuar manipulando a opinião pública, impondo seus interesses. Mas incômodo a quem? Não aos que me convidaram para estar neste momento entre os senhores. Sou levado a achar que consideram úteis as informações divulgadas por esse pequeno quinzenário, que completou agora 18 anos de vida. Meu jornalzinho já publicara as informações que faltaram aos marabaenses no debate com a diretoria da Salobo Metais. Se mais pessoas pudessem ter acesso a essas informações, mais habilitadas estariam para decidir seus próprios destinos, traçando-os conforme seus próprios interesses e não apenas os de terceiros, sobretudo os poderosos, justamente aqueles que me querem calar. Numa frente pioneira como a Amazônia, a informação é um bem valioso e, por isso mesmo, difícil de obter. Quem usa a informação para tirar vantagem, é evidente que não quererá que ela esteja ao alcance de mais gente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, diz a célebre música composta por Geraldo Vandré na década de 60, que tantos problemas causou ao seu autor. As coisas estão acontecendo no sul do Pará, com destaque para a área dos três municípios irmanados neste evento tão significativo. A causa desses acontecimentos é a energia. Há demanda crescente de energia no planeta, mas há carência de energia. Quando o preço do barril de petróleo deu um salto enorme, em 1973, atingindo um patamar surpreendente, os países ricos se reciclaram à realidade surgida com a crise de energia. Os carrões americanos, símbolos de um consumo perdulário de derivados de petróleo, foram arquivados. Era preciso ajustar a economia mundial à consciência de que a energia é um produto caro e suas fontes tradicionais são finitas ou começam a se exaurir. O mais prejudicado por esse impacto foi o Japão, que emergira da derrota na Segunda Guerra Mundial como uma das potências internacionais. Um dos desafios impostos aos japoneses pelo primeiro choque do petróleo foi deixar de produzir em seu próprio território o produto mais eletrointensivo criado pelo homem, o alumínio. Todas as 145 fábricas japonesas foram fechadas. A maior delas foi aberta a 20 mil quilômetros do Japão, a menos de 50 quilômetros de Belém. Hoje a fábrica da Albrás, garantindo 15% do consumo japonês de alumínio, é a 8ª do mundo e a maior consumidora individual de energia do Brasil, respondendo por 1,5% de toda a demanda nacional. Ganhamos realmente com os efeitos da crise de energia da década de 70? Nominalmente, sim. Entre Belém e São Luís está o principal polo desse metal no país e no continente, representando um salto incrível em relação à história anterior. Mas duvido que tenhamos realmente sido beneficiados nessa relação de troca. Só para dar um número desse balanço, basta citar o valor do subsídio de energia concedido à Albrás e à Alumar. A diferença entre a tarifa privilegiada que essas empresas receberam durante 20 anos e o custo de geração da energia que lhes foi fornecida pela Eletronorte representa mais do que o investimento na implantação de duas novas fábricas de alumínio. Elas começaram, em maio de 2004, novos 20 anos de energia subsidiada, graças a um contrato quase tão lesivo quanto o anterior, como se tivessem recebido novas fábricas de graça. Perdemos a oportunidade que a primeira crise de energia abriu para a Amazônia: quebrar o cartel das “seis irmãs” do alumínio e proporcionar um desenvolvimento efetivo e extensivo aos amazônidas, aos paraenses em particular. Parauapebas, Canaã dos Carajás e Xinguara estão atrás das ferramentas que faltaram aos paraenses nos anos 70 para tentar conseguir melhores resultados na crise de energia que estende seus efeitos até aqui. A ressonância é visível, mas não parece palpável, operacionável. É como se uma nave espacial tivesse pousado entre esses três municípios e em todo o entorno do sul do Pará. Todos querem ver o objeto misterioso, mas não sabem abordá-lo. Não sabem como penetrá-lo e decifrá-lo. Nesse aspecto, será melhor considerá-lo como um cavalo de Troia. E nós somos os troianos. Vamos transportar o cavalo para nossa cidadela e nos deixarmos surpreender pelo ataque de madrugada? Quem sabe faz a hora, diz a música de Vandré. A hora é esta. Mas sabemos fazê-la? Só sabe quem aprende. Estamos aprendendo? Há quem nos ensine? A aula é honesta? Os dados estão sendo apresentados de forma leal? Tantas perguntas, tão poucas respostas. A hora é esta porque mais uma vez a economia mundial se transforma para se adaptar a um novo choque de petróleo e a uma nova crise de energia. O barril de óleo vale, hoje, três vezes mais do que no pique do primeiro choque, na década de 70. Deverá baixar um pouco, mas só um pouco. A energia ficará estruturalmente mais dispendiosa. Ao custo econômico de produzi-la se aduzem os encargos ambientais de gerá-la. A nação mais poderosa da Terra reagiu pior ao ataque dos elementos contrariados e agravados da natureza, através de furacões, do que ao maior atentado terrorista da história humana, que atingiu o centro de Nova York. Entre outros motivos porque se prepara mais, gastando mais, contra o terrorismo do que contra a afetação do meio ambiente, para a qual dá a principal contribuição, com seu desenvolvimento a qualquer preço, arrogante, centralizador. É capaz de assinar qualquer tratado antiterror, mas reluta em subscrever o Protocolo de Kyoto. O Primeiro Mundo em geral e seu mais recente e poderoso associado em particular, a China, se antecipam no ajuste ao novo choque, que os acadêmicos diagnosticam como Divisão Internacional do Trabalho. Se nos anos 70 os japoneses fecharam fábricas que em conjunto produziam 1,2 milhão de toneladas de alumínio (quase três vezes a capacidade da Albrás), os americanos deverão fechar usinas com produção de 50 milhões de toneladas de chapas de aço. Essa demanda se deslocará para outros lugares do planeta. Outras produções eletrointensivas também estão migrando, em escala chinesa. O minério de ferro é o maior exemplo. Em 2004 os chineses ultrapassaram os japoneses como maiores clientes do minério da Companhia Vale do Rio Doce, responsável por um quarto das vendas desse produto no mundo. A empresa já anuncia a meta de 300 milhões de toneladas de minério de ferro para daqui a menos de dois anos. Parauapebas se consolidará como o maior município minerador de ferro do mundo. Quando a ferrovia de Carajás começou a operar, 20 anos atrás, seu horizonte não passava de 20 milhões de toneladas. Hoje, está na perspectiva de cinco vezes mais, ou 100 milhões de toneladas, substancialmente para exportação (ao contrário do destino da produção do Sistema Sul da CVRD, que atende principalmente o mercado interno). O Brasil, que era grande importador de cobre, gastando com o produto de 300 milhões a 400 milhões de dólares a cada ano, logo estará produzindo o triplo em exportações, graças às cinco jazidas de Carajás. Quando isso acontecer, Canaã dos Carajás deixará Parauapebas para trás como município minerador e metalúrgico. Além do cobre, haverá um peso novo na balança comercial: o níquel. O salto também será de bota de sete léguas. A CVRD está para adquirir a Canico, arrastando para si, com o controle acionário da empresa canadense, o projeto do Onça-Puma, que já está com seu licenciamento ambiental para implantação aprovado. Para a Vale, mesmo a um custo superior ao previsto, será um grande negócio. Para o país, nem tanto. Não é bom, no capitalismo que praticamos, o controle que uma única empresa deterá sobre a lavra e o beneficiamento desse minério estratégico. Mas é assim que tem acontecido, à falta do poder regulador do governo. Por ironia do destino, numa época em que não tínhamos esses minérios em volume comercial tínhamos política a respeito deles, às vezes excessiva. Agora que temos o minério comprovadamente em escala competitiva, faltam políticas públicas que aproximem os interesses empresariais das necessidades nacionais. O caso do cobre, tanto ou mais do que o do níquel, é a triste comprovação desse paradoxo, que, posto no divã, se torna esquizofrênico. As coisas acontecem — e acontecem em profundidade e rapidez que contrastam com o nível de conhecimento e a capacidade de reação da sociedade. Por isso, a enumeração de grandezas impressionantes, como as que já fiz, leva a uma constatação simples e definitiva: por que tais grandezas não nos atingem de uma forma benéfica, inquestionavelmente favorável? Por que só o resíduo dessas grandezas fica conosco? Por que o custo ultrapassa o benefício? Por que o efeito multiplicador vai acontecer lá fora e não aqui dentro? Qualquer um pode responder que é sempre assim na história da mineração, mas qualquer um também pode responder também que não é nunca assim quando a mineração deixa de ser um salto no vácuo, quando não se restringe ao primeiro passo, quando alavanca as etapas seguintes. O mal existe quando não temos uma percepção ao mesmo tempo realista e criativa dos fatos, ficando como aquela personagem da célebre música de Chico Buarque de Holanda, que se limita a ver a banda passar da janela. É preciso entrar na dança e recriar a música, se ela não nos agrada. Assim como tínhamos muitas possibilidades durante o primeiro choque do petróleo, as possuímos agora. Não num receituário fácil ou numa operosidade voluntariosa. É preciso ter um projeto amplo e bem estruturado. Mas é disso que somos lamentavelmente carentes. Onde estão os governos? O federal está imobilizado em Brasília, o estadual se omite em Belém. Dentro de alguns anos, se os prospectos empresariais vingarem, o Pará será o maior produtor estadual de bauxita do mundo, o maior exportador mundial de minério de ferro enquanto unidade federativa. Será também responsável por 30% da produção mundial de alumina, quinto ou quarto maior produtor de cobre, terceiro maior produtor de caulim, grande exportador de níquel, importante produtor de ouro, e por aí em frente. Mas na pauta do governo a mineração e a metalurgia continuarão a ser posseiros numa secretaria estadual, como acontece atualmente com a Seicom (Secretaria de Indústria, Comércio E Mineração)? Num movimento da sociedade de que me honro de ter participado, embora esquecido no seu desfecho, conseguiu-se a instalação de uma Escola de Minas, 150 anos depois da fundação da Escola de Minas de Ouro Preto. Mas em Minas Gerais essa unidade surgiu do propósito que já havia em homens ilustres de organizar o setor mineiro do Estado. Querendo estender a mineração ao setor industrial, a nossa ainda engatinhante escola surgiu bem depois de uma atividade já em curso, às vezes num curso desligado dos interesses locais, conectado apenas a interesses externos ou do empreendedor. A escola ainda está ameaçada de ser uma extensão da empresa mais do que um laboratório da sociedade, o fermento de um projeto de endogenia, voltado para dentro, irradiando-se apenas quando esse núcleo tiver consistência e poder germinativo, mas na perspectiva da expansão. Temos esse núcleo? Nós o tínhamos em tese quando a hidrelétrica de Tucuruí foi concluída, a ferrovia de Carajás entrou em operação, o polo de alumínio e alumina de Barcarena se constituiu. Hoje, a capacidade de geração da grande hidrelétrica está comprometida, não há disponibilidade de energia para projetos internos de maior demanda. Exportamos minério de ferro e gusa, enquanto o Maranhão ficará com a fabricação de chapas de aço e pellets. Mas nada de aciaria, o estágio de maior valor agregado. Podíamos ter implantado miniusinas elétricas, mas deitamos em berço esplêndido e a história passou em frente à nossa janela, como a banda de Chico Buarque. Jamais teremos, no vale do Araguaia-Tocantins, algo semelhante ao que houve no vale do Rhur, na Alemanha? Seremos sempre produtores de bens primários ou semielaborados? Cresceremos que nem rabo de cavalo, para baixo, deixando de nos atualizar às mudanças que o mundo faz, na verdade apenas o Primeiro Mundo, para manter sua primazia? Batendo recordes sucessivos de exportação, de saldo na balança comercial e até nas transações correntes, o Brasil de Brasília parece achar ociosas essas perguntas e inúteis suas respostas. No entanto, quero alertar os senhores para um dado que me impressionou bem mais do que esses recordes: 20 commodities, intensivas em recursos naturais (como o minério de ferro e a soja), respondem por 73% do valor das exportações brasileiras. Essa é, ao mesmo tempo, a força e a fragilidade do nosso comércio exterior, que começa a se inclinar para o Norte exatamente por causa da grandeza dos recursos naturais amazônicos. Como não controlamos nem sequer interferimos com algum poder decisório na formação de preços das commodities internacionais, estamos sempre expostos ao risco de cair das nuvens e amargar o gosto do barro do chão no qual desabarmos. A ascensão e a afluência de um momento podem ser seguidas abruptamente pela decadência e o ocaso, com o saldo negativo de não renovarmos as fontes dessa riqueza dada a guerra que travamos contra a natureza, escondendo atrás de outdoors de desenvolvimento sustentável uma rapinagem com verniz de modernidade, mas velha como os piratas fundiários. Sei que há iniciativas em curso para evitar esse péssimo destino manifesto e quero apoiá-las com minha voz distante. Há anos venho defendendo a criação de uma empresa pública sub-regional no Araguaia-Tocantins. Mas não pública apenas no papel. Pública através da subscrição de ações pelo público, que por ela deve ter interesse, a ela se deve solidarizar e dela deve ter benefícios reais. Essa agência de desenvolvimento, sob a forma jurídica de empresa pública, irá gerir a maior parte dos recursos pagos pelas empresas como compensação pela extração intensiva que fazem de recursos naturais paraenses e amazônicos, para atendimento da insaciável fome do Primeiro Mundo. Tal agência, devidamente sujeita a controle externo, formulará um plano de desenvolvimento do vale do Araguaia-Tocantins e o porá em execução, criando a interlocução do setor público que falta para aproximar os empreendimentos privados do anseio social, da contingência regional, sobrepondo-se à pequenez dos limites intermunicipais, mas sem ignorá-los. Ela tratará de estimular, induzir ou forçar a verticalização das cadeias produtivas, expressão que tem sido apenas retórica na boca de políticos que aparecem por aqui nas temporadas de voto ou na inauguração de obras, frequentemente suspeitas de superfaturamento por sua conexão com fundos de campanha eleitoral, em seus inefáveis caixa dois. Poderemos então viabilizar obras essenciais negligenciadas, como a transposição do rio Tocantins na barragem de Tucuruí. Com aplicação, competência e exação, essa agência abrirá as entranhas de cada cavalo de Troia que aparecer diante de nossas cidadelas, só colocando-os para dentro das muralhas quando ficar provado que realmente nos servem e não apenas se servem de nós. Aí, então, o desenvolvimento não será sustentável apenas no nome de batismo de eventos como este que agora nos reúne, numa solidariedade que transcende as barreiras do espaço e desafia os grilhões dos que não querem ver a verdade ser exercida no seu papel mais nobre: como a ferramenta da liberdade e do progresso. Que é o que firmemente desejamos. ---------- Lúcio Flávio Pinto é o editor do Jornal Pessoal, de Belém, e autor, entre outros, de O jornalismo na linha de tiro (2006), Contra o poder. 20 anos de Jornal Pessoal: uma paixão amazônica (2007), Memória do cotidiano (2008) e A agressão (imprensa e violência na Amazônia) (2008).
Fonte: Jornal Pessoal & Gramsci e o Brasil.
|
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
A Era Lula, segundo Werneck Vianna
Rubem Barboza Filho
- Outubro 2011
Luiz Werneck Vianna. A modernização sem o moderno. Análises de conjuntura na era Lula. Brasília/ Rio de Janeiro: Fundação Astrojildo Pereira/ Editora Contraponto, 2011. 191p.
Este livro — uma coletânea de artigos de conjuntura — trata do sentido verdadeiro do segundo mandato de Lula e da política brasileira nos últimos anos. Um leitor cético e inteligente logo dirá que não existe na política — o reino por excelência das coisas humanas — um “sentido verdadeiro” para os fatos, eles mesmos submetidos à incontrolável e flutuante força das versões e das opiniões, sem as quais a própria democracia não existe. E que é impossível, inútil e suspeito, a busca de um ponto de vista externo e superior, capaz de iluminar, com o despótico poder da verdade, a ordem subjacente ao caos aparente dos eventos e acontecimentos da política. A pretensão da verdade anula aquilo que a política tem de mais humano e produtivo: a nossa capacidade de imaginar, fantasiar e inventar, pela ação, a nossa própria liberdade e o nosso destino, ainda que levando em conta constrangimentos de natureza vária. A ilusão da verdade, diria ainda este inteligente leitor, é politicamente conservadora, ao dissociar a nossa vontade e o mundo, oferecendo-nos uma versão fatalista da vida. A verdade da política, e sobretudo de uma democracia política, reside na nossa capacidade de viver e explorar o seu único fato irremediável: o de que não existe a verdade, mas possibilidades, e a disputa constante pela opinião de todos.
É por concordar integralmente com o leitor que reafirmo este livro de Luiz Werneck Vianna como a revelação — a denúncia — do sentido verdadeiro da conjuntura brasileira dos nossos últimos cinco anos. Há nele uma história — condição para que os eventos particulares ganhem significado e explicação —, tecida pela contraposição entre a imaginação das nossas possibilidades democráticas e o nosso cotidiano. Uma história que não recusa e desqualifica os avanços econômicos e sociais constitutivos do ciclo definitivo de implantação de um capitalismo moderno entre nós, iniciado com o Plano Real. Mas uma história que não hesita em flagrar, na glorificação do êxito deste ciclo econômico, a raiz de uma operação que faz coincidir a nossa imaginação com a mera apoteose das formas existentes de um capitalismo emergente. Emagrecimento de nossa imaginação que autorizou a continuidade dos governos Fernando Henrique e Lula, do PSDB e do PT, e que presidiu a sensaboria da disputa de dois possíveis gerentes do capitalismo — Dilma e Serra —, ambos aprisionados por esta redução do possível ao real, como se este desfrutasse de uma despótica e intocável objetividade.
O dinamismo econômico poderia, na dimensão da política, sustentar materialmente a existência de uma sociedade plural e ativa, capaz de enriquecer o horizonte de nossas possibilidades e escolhas. Não foi o que aconteceu, nos alerta Werneck Vianna. Na defensiva ao final do primeiro mandato, e por ensaio e erro, Lula reativou a velha tradição da estadofilia brasileira, jogando às traças a disposição antitradicionalista que fez nascer o PT. Dispensando qualquer justificativa pública para esta “viagem redonda”, Lula e o PT levaram para dentro do Estado tudo o que estava vivo e se movia na sociedade, estatalizando todos os interesses e submetendo-os à administração carismática do presidente. Só há vida e só pode haver vida e significado dentro do Estado, proclama este enredo que esvazia a sociedade, destrói sua autonomia e condena o parlamento a um apêndice irrelevante da política. E que cria “uma verdade” por ser a única a ter o privilégio da existência, arranjo oposto à aspiração de uma nova hegemonia — para usar o conceito de um pensador caro ao nosso autor — pretendida pelo PT. Razão pela qual, salienta Werneck Vianna, o Judiciário e o Ministério Público se vêem obrigados a um protagonismo contraditório, protegendo a sociedade deste arranjo estatalizante e sancionando a expulsão da política de nossa vida democrática.
O leitor cético e inteligente já terá percebido que o autor desta coletânea não mobilizou nenhum ponto de vista externo e superior, com a ambição da verdade, para dar corpo à sua análise. Bem ao contrário, o que ele denuncia é a dulcificação do real como a soma de todas as nossas possibilidades, a construção de uma verdade que conspira contra a democracia. E se o leitor acompanhá-lo até o final, será presenteado com argumentos para uma previsão: a de que, se a riqueza da política foi expulsa por Lula pela porta da frente, com Dilma ela voltará pela porta de trás. Junto com o leitor democrata, só é possível dizer: tomara.
----------
Rubem Barboza Filho é professor titular de Ciências Sociais da UFJF.
Este livro — uma coletânea de artigos de conjuntura — trata do sentido verdadeiro do segundo mandato de Lula e da política brasileira nos últimos anos. Um leitor cético e inteligente logo dirá que não existe na política — o reino por excelência das coisas humanas — um “sentido verdadeiro” para os fatos, eles mesmos submetidos à incontrolável e flutuante força das versões e das opiniões, sem as quais a própria democracia não existe. E que é impossível, inútil e suspeito, a busca de um ponto de vista externo e superior, capaz de iluminar, com o despótico poder da verdade, a ordem subjacente ao caos aparente dos eventos e acontecimentos da política. A pretensão da verdade anula aquilo que a política tem de mais humano e produtivo: a nossa capacidade de imaginar, fantasiar e inventar, pela ação, a nossa própria liberdade e o nosso destino, ainda que levando em conta constrangimentos de natureza vária. A ilusão da verdade, diria ainda este inteligente leitor, é politicamente conservadora, ao dissociar a nossa vontade e o mundo, oferecendo-nos uma versão fatalista da vida. A verdade da política, e sobretudo de uma democracia política, reside na nossa capacidade de viver e explorar o seu único fato irremediável: o de que não existe a verdade, mas possibilidades, e a disputa constante pela opinião de todos.
É por concordar integralmente com o leitor que reafirmo este livro de Luiz Werneck Vianna como a revelação — a denúncia — do sentido verdadeiro da conjuntura brasileira dos nossos últimos cinco anos. Há nele uma história — condição para que os eventos particulares ganhem significado e explicação —, tecida pela contraposição entre a imaginação das nossas possibilidades democráticas e o nosso cotidiano. Uma história que não recusa e desqualifica os avanços econômicos e sociais constitutivos do ciclo definitivo de implantação de um capitalismo moderno entre nós, iniciado com o Plano Real. Mas uma história que não hesita em flagrar, na glorificação do êxito deste ciclo econômico, a raiz de uma operação que faz coincidir a nossa imaginação com a mera apoteose das formas existentes de um capitalismo emergente. Emagrecimento de nossa imaginação que autorizou a continuidade dos governos Fernando Henrique e Lula, do PSDB e do PT, e que presidiu a sensaboria da disputa de dois possíveis gerentes do capitalismo — Dilma e Serra —, ambos aprisionados por esta redução do possível ao real, como se este desfrutasse de uma despótica e intocável objetividade.
O dinamismo econômico poderia, na dimensão da política, sustentar materialmente a existência de uma sociedade plural e ativa, capaz de enriquecer o horizonte de nossas possibilidades e escolhas. Não foi o que aconteceu, nos alerta Werneck Vianna. Na defensiva ao final do primeiro mandato, e por ensaio e erro, Lula reativou a velha tradição da estadofilia brasileira, jogando às traças a disposição antitradicionalista que fez nascer o PT. Dispensando qualquer justificativa pública para esta “viagem redonda”, Lula e o PT levaram para dentro do Estado tudo o que estava vivo e se movia na sociedade, estatalizando todos os interesses e submetendo-os à administração carismática do presidente. Só há vida e só pode haver vida e significado dentro do Estado, proclama este enredo que esvazia a sociedade, destrói sua autonomia e condena o parlamento a um apêndice irrelevante da política. E que cria “uma verdade” por ser a única a ter o privilégio da existência, arranjo oposto à aspiração de uma nova hegemonia — para usar o conceito de um pensador caro ao nosso autor — pretendida pelo PT. Razão pela qual, salienta Werneck Vianna, o Judiciário e o Ministério Público se vêem obrigados a um protagonismo contraditório, protegendo a sociedade deste arranjo estatalizante e sancionando a expulsão da política de nossa vida democrática.
O leitor cético e inteligente já terá percebido que o autor desta coletânea não mobilizou nenhum ponto de vista externo e superior, com a ambição da verdade, para dar corpo à sua análise. Bem ao contrário, o que ele denuncia é a dulcificação do real como a soma de todas as nossas possibilidades, a construção de uma verdade que conspira contra a democracia. E se o leitor acompanhá-lo até o final, será presenteado com argumentos para uma previsão: a de que, se a riqueza da política foi expulsa por Lula pela porta da frente, com Dilma ela voltará pela porta de trás. Junto com o leitor democrata, só é possível dizer: tomara.
----------
Rubem Barboza Filho é professor titular de Ciências Sociais da UFJF.
Fonte: Especial para Gramsci e o Brasil.
Finança, inovação e aquecimento global
Marcos Costa Lima
- Setembro 2011
1. Introdução
No período 1992-2000, que ficou caracterizado como aquele da “Nova Economia”, os Estados Unidos da América vinham de conhecer a mais longa fase de crescimento ininterrupto de todos os tempos, ao ponto em que alguns analistas declararam que o crescimento havia se tornado estrutural. Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, afirmava em 6 de maio de 1999 que as NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) estavam na origem do essencial dos ganhos de produtividade e do novo crescimento sem inflação [1]. É importante salientar aqui o papel da grande mídia internacional econômica e financeira — da manipulação simbólica —, como suporte e enraizamento do mito da “Nova Economia” como um fenômeno global que privilegia os objetos imateriais (informação, produção intangível e interconexão em rede). Este grande aparato, articulado pelas universidades do mainstream e a “mídia especializada”, não fazia qualquer alusão a outras realidades sociais, de economias deprimidas, estagnadas ou absorvidas pelo endividamento externo, nem tampouco refletia sobre quaisquer problemas, tais como o de saber se estas formas observáveis de desagregação social tinham qualquer relação com a “exuberância irracional” demonstrada, principalmente, pela economia estadunidense.
Seis características desta “Nova Economia” se destacam. Trata-se de uma economia: i) de forte crescimento; ii) baseada na produção de novas tecnologias de informação e comunicação; iii) baseada na expansão dos empregos no setor de serviços; iv) exigente de um nível mais alto de flexibilidade do trabalho e do mercado de trabalho; v) uma economia de mercado profundamente desregulada; vi) exigente de um novo modo de “governo” das empresas. Esta nova forma de governance mantém relações muito estreitas com os mercados financeiros desregulados: livre circulação, livre especulação e desengajamento do Estado (Gadrey, 1960, p. 34).
A lógica interna do processo se daria na seguinte cadeia: o novo crescimento estável e sem inflação é tornado possível pela difusão das NTICs, por um lado, e, por outro, pela flexibilidade e mobilidade do trabalho. As NTICs, por sua vez, aumentam a produtividade, fazem baixar os custos e, portanto, reduzem a inflação, criando desta forma empregos qualificados e estímulos às Bolsas de Valores. Com base neste novo crescimento, o nível de vida progride e a demanda por serviços pessoais aumenta substantivamente, ampliando o emprego de forma massiva e, por conseguinte, reabsorvendo o desemprego. O modelo parece funcionar, no entanto ele só se realiza sob três condições: i) a extensão do mercado concorrencial na direção de atividades e de regiões do mundo que ignoram ainda estes benefícios; ii) um novo modo de governo das empresas que transfere o poder aos acionistas — capitalismo acionista — para que reduzam a rigidez e os custos das burocracias gerenciais; iii) e, sobretudo, mercados financeiros liberalizados e globalizados, os únicos capazes de praticar racionalmente uma performática “seleção das espécies”, conforme expressão de Gadrey (Id., p. 36), que equivale às fusões e aquisições que têm provocado o enriquecimento de poucos e os efeitos perversos para muitos. Já é conhecida e analisada, em muitos de seus aspectos, a falência desta “Nova Economia” (Chesnais, 2003a, p. 11-24), quando a poupança de centenas de milhares de pequenos portadores de ações desapareceu como uma nuvem de fumaça [2].
O impacto desta economia cassino atropelou os trabalhadores, gerou um desemprego estrutural crescente, aboliu conquistas históricas dos trabalhadores, provocou imensos desgastes ambientais, pelo ritmo alucinante do dia a dia na Bolsa de Valores, das bolhas imobiliárias e do mercado dos intangíveis, a produzir sistematicamente desequilíbrios ambientais e sociais de toda ordem (Chesnais, 2003a, p. 13) [3]. O Intergovernamental Panel of Climate Change (IPCC) lançou um relatório em fevereiro de 2007, no qual afirma que “o aquecimento do sistema climático é inequívoco, como agora se torna evidente a partir das observações do crescimento nas médias globais das temperaturas do ar e do oceano, generalizando o degelo de neve e gelo e o aumento do nível do mar. No plano continental, regional ou em escalas oceânicas, foram observadas numerosas mudanças climáticas de longa duração” [4].
O objetivo deste trabalho é aprofundar a articulação entre processos de financeirização, impulso tecnológico e crise ambiental. A partir da Segunda Guerra Mundial, inclusive em decorrência dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a tecnologia militar no período do conflito, ocorreu um substantivo avanço nas tecnologias de transporte, comunicação e informação militar, realizado pelos Estados Unidos da América, que resultou em três características fortes do novo quadro capitalista: i) ampliou-se o conhecimento científico e tecnológico através das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), que passaram a ser entendidas como geradoras de vantagens competitivas; ii) promoveu-se uma maior integração do espaço econômico no âmbito mundial, seja pela queda sistemática das barreiras alfandegárias, seja pela expansão das corporações multinacionais e pela instrumentalização das NTICs; iii) aumentou a competição entre as empresas multinacionais, atuais controladoras de grandes fatias do mercado mundial [5].
2. A financeirização
Com a configuração contemporânea das relações de propriedade e das relações políticas, essa dinâmica assume como traço essencial a dominação financeira, tornando-se, portanto, necessário aprofundá-la e verificar o seu raio de propagação.
Há mais de trinta anos as finanças deixaram de ser conduzidas pelos governos; passaram então a ser dirigidas pelo mercado, cuja extensão mundial alterava as repercussões das perturbações econômicas entre os países e os riscos ligados à instabilidade dos mercados financeiros. Tais perturbações e riscos passaram a ter grande importância, provocando um contágio generalizado, com efeitos ainda mais dramáticos naqueles países de baixa industrialização e que já acumulavam um elevado endividamento externo. Como afirma argutamente Michel Aglietta (2003, p. 19), “o risco se tornou um traço maior das finanças modernas”.
Para que a análise econômica não venha a subsumir a dimensão da política, das particularidades histórico-culturais e possibilidades nacionais, da ação dos sujeitos políticos capazes de produzirem alternativas ao sistema capitalista vigente, o aporte teórico-analítico introduzido por François Chesnais (2004, 2003b) é fundamental. Aí encontramos uma reflexão madura que, ao articular o fenômeno da mundialização do capital à dimensão da financeirização e à produção do conhecimento, ilumina algumas destas questões.
Para Chesnais, o poder das finanças se construiu sobre o Estado endividado. Sob o efeito das taxas de juros superiores ou muito superiores à inflação, como ao crescimento do PIB, a dívida pública faz “bola de neve”. A subida das taxas é acompanhada de efeitos quase mecânicos de divergência entre os que têm poupança (um excedente com relação ao consumo) e podem comprar ações, títulos, e aqueles que têm nível de renda que não lhes permite poupar. Esta é a primeira etapa do processo da financeirização, que permitiu o caminho às privatizações. A segunda etapa do “regime de acumulação financeira” ocorre quando os dividendos se tornam um mecanismo determinante da apropriação do valor e os mercados de Bolsas, as instituições mais ativas da transferência rentista. As altas taxas de juros provocam, por parte do Estado endividado, fortes pressões fiscais sobre os que recebem menores salários e têm menor mobilidade. Exigem austeridade orçamentária e redução dos gastos públicos.
Assim sintetiza François Chesnais: “O capitalismo contemporâneo busca, indubitavelmente, acentuar e exercer diretamente um controle tanto sobre os lugares como sobre os atores que detêm conhecimentos ou um potencial de criatividade técnica no domínio da produção, do comércio ou da organização”. Mas pergunta ele: “Quem exerce o controle, e em função de quais interesses?” (Chesnais, 2003b, p. 2).
Portanto, para se compreender a dimensão e as implicações desse controle, mas também as resistências, contradições e desperdícios que ele comporta é relevante definir a princípio a configuração específica das relações de produção enquanto relação de propriedade. E, uma vez entendendo que os efeitos da privatização do saber correspondem a um estágio do capitalismo no qual o controle do conhecimento detém um papel central (através, entre outros, dos mecanismos da propriedade intelectual), uma síntese entre uma teoria crítica do capital cognitivo e a crítica do capital patrimonial pode e deve ser esboçada, sob a condição de que a questão da propriedade privada dos meios de pesquisa e de produção seja abordada de frente.
3. As políticas científicas e tecnológicas e os sistemas nacionais de inovação
A ideia de uma política específica relativa à organização da ciência em nível nacional e a atribuição de recursos para a pesquisa são de aplicação recente e vêm do pós- 2ª Guerra mundial, muito embora autores como Bernal (1939) já desenvolvessem, ao final dos anos 30, uma reflexão consistente sobre o papel social da ciência (Freeman, 1992).
O Reino Unido cria em 1945 o Comitee on Future Scientific Policy e, em 1947, o Advisory Council for Social Science Policy. Alexander King afirma que a OCDE, no início dos anos 1960, estabelece o Relatório Piganiol, a primeira apresentação pública do que hoje se designa por “política de ciência” (King, 1974). Também para Salomon (1977), só a partir da 2ª Guerra mundial é que as intervenções públicas para a ciência e a tecnologia adquiriram uma forma explícita, organizada e institucionalizada, dando ao novo campo o reconhecimento através de organismos estatais, com mecanismos, procedimentos e um corpo burocrático e político especialmente dedicado a lidar com C&T. Tanto Salomon como King chamam as tentativas norte-americanas e soviéticas antes desse período de pré-política científica.
De acordo com o trabalho de Piganiol e Villecourt (1963) (Ruivo, 1998), a política científica deveria corresponder a dois objetivos maiores: permitir aos cientistas desenvolverem seus trabalhos de descoberta de explicações para fenômenos ainda incompreendidos e permitir às autoridades públicas e privadas assegurar a utilização desses conhecimentos e orientar certas investigações no interesse do maior número de pessoas. Já Salomon entende por política cientifica as medidas tomadas por um governo para, por um lado, encorajar o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica e, por outro, explorar os resultados da pesquisa, tendo em vista os objetivos de políticas gerais (Ib., p. 65). Vê-se que, neste período, a compreensão da política de C&T incorpora uma visão “idílica” da produção do conhecimento, ainda relegando à sua “apropriação” um caráter secundário.
No início dos anos 60 uma abordagem mais sistemática da inovação tecnológica será desenvolvida, com os trabalhos pioneiros de Nelson, Rosemberg e posteriormente Freeman, Perez, Dosi, entre outros. Nelson, falando do “tecno-nacionalismo”, dizia que ganhava força uma “forte crença”, segundo a qual as capacidades tecnológicas das firmas de uma nação seriam a chave de seu poder competitivo e que estas capacidades, em um sentido nacional, poderiam ser construídas por uma ação interna a cada nação. Esse entendimento e mesmo o clima da época geraram grande interesse nos sistemas nacionais de inovação, entre suas similitudes e diferenças, bem como na dimensão e na forma pela qual estas diferenças explicam a variedade de performances econômicas (Nelson, 1993).
O conceito, ainda na expressão de Nelson, representa um conjunto de instituições cujas interações determinam a performance da inovação das firmas nacionais. O sistema não representa aqui o fato de que as instituições que o constituem ajam coerentemente e de forma tranquila, mas simplesmente que os atores institucionais dele participantes jogam um papel que influencia a inovação.
Por outro lado, em muitos campos da tecnologia, a exemplo dos campos farmacêutico e aeronáutico, um número de instituições é ou age de forma transnacional. Isto levanta inclusive um problema sobre a pertinência do conceito de sistema nacional de inovação, pois, num mundo onde as firmas, os mercados, a tecnologia e os negócios são cada vez mais mundializados, faz sentido ainda hoje falar em sistema nacional de inovação?
A definição de sistema nacional de inovação, como inicialmente proposta por Freeman (1987), o considera uma rede de instituições nos setores público e privado cujas atividades e interações iniciam e difundem a nova tecnologia. A relevância das instituições está diretamente relacionada ao reconhecimento de que uma boa parte do conhecimento incorporado no processo de inovação é tácita e, portanto, se configura em pessoas e instituições. A estrutura institucional científica e tecnológica e a rede (network) de relações de cooperação que apoiam a inovação num país provêm de uma instância em que a questão “quem somos nós?” — o “nós” representando as firmas e instituições imersas numa rede de relacionamentos ativadas para a inovação num determinado país — é de extrema importância. Redes de instituições acumulam conhecimento tecnológico ao longo do tempo e quanto maiores são seus conhecimentos, mais fácil é descobrir e absorver conhecimento novo. A dimensão cumulativa da ciência e da tecnologia provê as bases para crescentes retornos na acumulação de conhecimento e mesmo a persistente aglomeração de atividades tecnológicas particulares em algumas regiões e lugares, na medida em que não são destruídas por mudanças radicais nos paradigmas tecnológicos ou por fortes políticas adversas e atitudes estratégicas de corporações (Freeman & Perez, 1988).
Para Patel e Pavitt (2000), do Science Policy Research Unit da Universidade de Sussex, pode-se definir um sistema nacional de inovação como sendo “a maneira pela qual as instituições são implicadas na produção, na comercialização e na difusão de novos produtos, processos e serviços mais bem-sucedidos (isto é, a mudança técnica), mas também a forma pela qual as estruturas de estímulo e as capacidades destas instituições influenciam a taxa de crescimento e a direção de tais mudanças”.
Patel e Pavitt (2000), em estudo no qual procuram estabelecer os elos institucionais entre as atividades de P&D das firmas e a pesquisa fundamental financiada pelos fundos públicos nas universidades e organismos associados, entendem que os estudos empíricos confirmam a existência de sistemas nacionais de inovação. É neste contexto que examinam as incidências da globalização das atividades das firmas sobre os elos tão privilegiados entre a base cientifica nacional e as atividades nacionais de inovação.
Em pesquisa baseada na análise sistemática de 359 grandes grupos mundiais (entre os 500 maiores da lista da revista Fortune), ativos no plano tecnológico nos anos 1990, Patel e Vega (1997) revelam que as firmas continuam a executar uma proporção elevada de suas atividades de inovação nos seus países de origem. As atividades de inovação das firmas japonesas são as menos mundializadas e aquelas das firmas europeias, as mais mundializadas. Na Europa as atividades tecnológicas das empresas levadas a cabo fora de seus países de origem são maiores para as firmas originárias dos pequenos países (mais de 50% no caso das grandes empresas belgas, holandesas e suíças), que para aquelas originárias dos grandes países (um terço no caso das firmas francesas, alemãs e italianas).
“Do início dos anos 1980 à metade dos anos 1990, as grandes firmas aumentaram a proporção de suas atividades de inovação desenvolvidas fora de seu país de origem em somente 2,4%”. Os autores assinalam ainda que a maior parte do incremento das atividades tecnológicas no estrangeiro foi muito mais uma atividade decorrente das aquisições de outras empresas estrangeiras, do que efetivamente uma reconfiguração internacional das atividades de P&D [6]. A conclusão destes autores é que os sistemas nacionais de inovação, em que uma base científica forte está ligada às grandes firmas nacionais inovadoras e competitivas, se mostram um caminho desejável, seja para o governo, seja para as empresas, seja para a sociedade como um todo, mas é necessário não esquecer que estes sistemas estão cada vez mais submetidos a tensões crescentes provocadas pela mundialização, que tem acarretado: i) liberalização; ii) desigual nível tecnológico entre países; e iii) extensão do número de competências que as firmas devem dominar a cada dia.
4. A colonização do tecnológico pela finança mundializada
François Chesnais (2003b) estabelece uma diferença importante com a escola evolucionista, ao assinalar a hierarquia conquistada e a amplitude dos meios postos em ação pelos Estados Unidos da América e pelos segmentos mais poderosos do capital, no sentido de preservar as relações de dominação política e social e os modos de vida que o acompanham. Portanto, distancia-se dos neoevolucionistas ao colocar como central a determinação política e social do processo de acumulação de capital. A orientação de parte importante do orçamento científico e tecnológico dos EUA para fins militares e, agora, para projetos “totalitários” de apropriação-expropriação do ser vivo “é a manifestação mais evidente, dando um conteúdo sinistro à sociedade que veria o triunfo do capital cognitivo”.
A reflexão realizada por Orsi e Coriat (2003) procurou, na sequência da crise da bolha, do seu impacto sobre a Nasdaq e das inúmeras falências que seguiram a queda das Bolsas, entender o processo de complementaridades construído, principalmente nos EUA, entre um regime de direitos de propriedade intelectual e um conjunto de regulamentações inéditas sobre o mercado financeiro, que permitiram a promoção das chamadas “firmas inovadoras”. Tal reflexão reforça a hipótese de Chesnais sobre o lugar prioritário de análise do financeiro e não do tecnológico.
Os autores examinam a série de mudanças ocorridas nos últimos vinte anos nos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), promovidas pela administração e pela justiça norte-americana. Em primeiro lugar, a abertura do domínio das patentes para novos atores, no caso, as universidades e laboratórios de pesquisa acadêmicos, já que uma nova legislação autorizava o depósito de patentes sobre os produtos de suas pesquisas, quando se trata de instituições financiadas por fundos públicos.
Para Orsi & Coriat, este passo foi dado com a aprovação do Bayh-Dole Act (1980) que introduziu uma série de disposições novas e complementares. A primeira, como já assinalado, foi a autorização para o depósito de patentes sobre os resultados de pesquisas financiadas com fundo público. Por outro lado, abriu-se a possibilidade de cessão dessas patentes sob forma de licenças exclusivas a firmas privadas ou de constituição de joint ventures, associações cujo objetivo será o de tirar partido dos conhecimentos desta forma cedidos, seja para fins de comércio, seja para sua viabilização enquanto produtos comercializáveis. O resultado foi a explosão do número de patentes depositados pelos laboratórios públicos.
O Bayh-Dole Act veio provocar uma mudança fundamental na prática da pesquisa acadêmica, com a formação em todas as grandes universidades norte-americanas dos escritórios de transferência de tecnologia (Technological Transfer Offices). Como consequência direta, estas instâncias passam a jogar um papel decisivo na orientação da pesquisa, com uma ação que privilegia aquelas pesquisas suscetíveis de serem patenteadas no prazo mais curto. Ainda, em numerosos casos, estas ações poderão incidir no retardamento da publicação dos resultados científicos, submetendo-se a publicação a depósitos de patentes prévios. Estes novos procedimentos permitidos pela lei alteram completamente a natureza do entendimento e sentido de “bem público” que revestia até então a informação científica.
Outra mudança forte decorrente do Bayh-Dole Act foi a entrada do capital financeiro no mundo da produção do conhecimento. Em 1984, uma regulamentação da NASD [7] permitiu a colocação no mercado e a cotização de firmas deficitárias, sob a condição que estas disponham de um forte “capital intangível”, que se constitui basicamente de direitos de propriedade intelectual. Outras alterações de dispositivos legislativos foram realizadas, como o prudent man, para permitir que os fundos de pensão fossem autorizados a investir uma parte de seus ativos em títulos de risco, o que antes era proibido. Com isto, viu-se a entrada no mercado de valores financeiros de um conjunto de firmas novas, deficitárias, mas julgadas, em razão de seus ativos intangíveis, como de “alto potencial”.
Foi desta maneira que se criou no mercado norte-americano uma complementaridade institucional entre os mercados financeiros e os Direitos de Propriedade Intelectual, fazendo com que uma boa parcela da “nova economia” encontrasse aqui sua origem. Os resultados nefastos destas medidas estão, em primeiro lugar, na apropriação do processo do conhecimento por firmas privadas e, em segundo lugar, na condução do mesmo por interesses imediatistas, voltados para a mercantilização. Na prática, como já temos visto, tal mercantilização ocorre de forma inaceitável, seja no caso dos fármacos relacionados à Aids, de modo que as populações mais necessitadas não têm acesso aos medicamentos necessários, seja pelo abandono de pesquisas em doenças que atingem os países pobres, de pouco interesse para os grandes oligopólios.
5. O aquecimento global
Em seu 4º Relatório, publicado em 2007, o Grupo Intergovernamental de Experts sobre o Clima (GIEC), com mandato da Organização das Nações Unidas, confirmou o papel de homens e mulheres no aquecimento global, uma constatação importante no curso da 2ª metade do século XX.
A tentativa atual de conter a alta das temperaturas em menos de 2° Celsius, para reduzir o risco de mudanças extremas e dramáticas, representa dividir por mais de duas vezes as emissões mundiais e, portanto, ao menos quatro vezes aquelas emissões dos países ricos, até 2050. Alguns países desenvolvidos estão se engajando no processo, e a França, por exemplo, em 13 de julho de 2005, assinou o objetivo “Fator 4”, do artigo 2° da lei do programa que fixa as articulações da política energética [8]. A virada do milênio presenciou um número recorde de desastres naturais e extremos de calor: inundação em Bangladesh (1996); ciclone em Orissa (Índia, 1996); inundações na Venezuela (1999); tsunami no Oceano Índico (2004); o furacão Katrina que inundou New Orleans em 2005; a grande estiagem do Rio Amazonas em 2006.
O 4º Relatório do IPCC afirma que não houve tendências claras sobre ciclones tropicais e tornados, mas que aumentou a frequência de secas mais intensas e duradouras e de episódios de muita chuva desde 1970. Outro dado é que a temperatura global média do ar aumentou 0,74º C entre 1906 e 2005. Isso significa que a primavera no Hemisfério Norte está sendo antecipada em 10 dias.
Outras conclusões presentes no mesmo relatório são: 11 dos 12 últimos anos foram os mais quentes desde 1850; o nível médio do mar aumentou 1,6 milímetro por ano entre 1993 e 2003 (ao longo do século 20, foram cerca de 17 centímetros); a cobertura de neve e a extensão das geleiras diminuíram nos dois hemisférios; a área máxima coberta sazonalmente por gelo no Hemisfério Norte decresceu 7% desde 1990 (ou seja, os invernos lá estão menos rigorosos).
Estas constatações foram reforçadas no recente pronunciamento de Rajendra Pachauri (2008) perante o Fórum de Davos, quando, baseado no 4° Relatório, afirmou que, se não forem mitigadas, as mudanças climáticas podem ter sérias implicações para o bem-estar econômico da sociedade humana. E apontou dois dos maiores achados do estudo:
Poder-se-ia continuar com novos exemplos sobre os efeitos do sistema baseado no mercado de consumo, nos combustíveis fósseis e na estrutura do atual capitalismo de corporações e das finanças. Mas é necessário chamar a atenção para o fato de que estes desastres ambientais impactam com muito maior força as regiões e populações da periferia. O Banco Mundial (2000) informa que, entre 1990 e 1998, cerca de 94% dos maiores desastres mundiais ocorreram nos países em desenvolvimento, onde também ocorreram 97% das mortes a eles relacionadas.
Atividades predatórias, que interferem na vida econômica, social e ambiental como o desmatamento, as queimadas, a inexistência de saneamento básico nas áreas da pobreza urbana e rural, a destruição indiscriminada dos manguezais, as construções habitacionais em zonas tidas como non aedificandi, são resultantes da pobreza, da pressão por moradia e da luta pela sobrevivência (Costa Lima, 2002). Esses processos são decorrentes da forma de acumulação vigente no capitalismo, que emprega cada vez menos pessoas nos circuitos formais da produção, provoca ou estimula a obsolescência programada dos produtos industriais num modelo voltado para o consumo de massa. Sabe-se hoje que o grande impacto ambiental, aquele que deteriora massivamente o planeta e gera os desastres ambientais, é oriundo em larga medida dos países centrais, o que não quer dizer que os países periféricos e a forma de desenvolvimento por eles adotada não contribuam para o agravamento do problema.
Nos últimos 50 anos, o total da produção econômica global cresceu de U$ 4.9 trilhões para mais de U$ 29 trilhões, aumentando em seis vezes a riqueza, quando a população mundial aumentou duas vezes (Worldwatch Institute, 2000). Hoje, a escala e o ritmo da produção e do consumo industrial (incluindo a agricultura neles envolvida) estão utilizando os recursos naturais de forma mais rápida do que a natureza pode repor. Estão destruindo os ecossistemas que fornecem serviços vitais e os sistemas que garantem a vida, bem como danificando as funções essenciais da Terra, como a circulação da água, do nitrogênio e do dióxido de carbono. A Terra não tem sido capaz de absorver dejetos, prover os recursos naturais nem manter as reservas de água limpa e de ar tão rapidamente quanto se está demandando.
Do ponto de vista da teoria econômica mainstream, do pragmatismo e da mão invisível, há muito a considerar: por exemplo, recursos como água potável, ar, corais e o mar não podem continuar a ser encarados como se fossem livres e inesgotáveis. Um outro grande problema não enfrentado, na prática, pela grande maioria dos neoclássicos é o longo prazo [9]. Suas decisões são quase sempre relacionadas ao curto prazo, sobretudo porque associadas ao rentismo das Bolsas de Valores. O risco de longo prazo, os custos relacionados aos recursos humanos (mão de obra de baixa qualificação) e ambientais são ignorados na maioria das vezes.
Com relação às políticas ambientais, segundo afirmaram Fontaine, van Vliet e Pasquis (2006, p. 17), fica claro que estas não se restringem nem a um mero problema de gestão nem tampouco a um problema de governo. São muito mais “a combinação de estruturas institucionais (regras do jogo e agentes estatais) com processos participativos que envolvem atores sociais e atores de mercado, que definem as condições de qualidade das políticas públicas”.
Foram aqui explicitados os elementos que demonstram que o capitalismo contemporâneo, com todos os seus avanços tecnológicos, tem sido incapaz de resolver os problemas relacionados ao emprego, à degradação ambiental, ao bem-estar e às condições condignas da maior parcela da população do planeta. A comunidade mundial necessita construir novas instituições, novas interações políticas que sejam capazes de levar a um desenvolvimento alternativo e a uma mudança de paradigma, na direção da equidade, da democracia real e da sustentabilidade ambiental [10]. Esta não é uma tarefa fácil nem ligeira, sobretudo porque uma comunidade mundial só existe a partir de comunidades nacionais que conformam as relações políticas internacionais. E estas comunidades locais, nacionais, regionais e internacionais precisam se inteirar de fato dos desafios atuais, para poder, juntas, construir alternativas viáveis à destruição e à barbárie.
----------
Marcos Costa Lima é professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Este artigo tem o título original de “Capitalismo financeiro, inovação tecnológica e aquecimento global: as relações complementares”.
----------
Notas
[1] “Comumunication to the 35th Annual Conference on Bank Structure and Competition of the Federal Reserve Bank of Chicago”. Problèmes Économiques, 1° dez. 1999.
[2] O Le Monde (22/10/2002) informava que mais de 8 trilhões de dólares foram “queimados” após a segunda metade do ano de 2000.
[3] Chesnais continua: “Nos EUA, 40 milhões de assalariados titulares de um plano de poupança chamado ‘401 K’ tiveram boa parte de suas aposentadorias ameaçadas”.
[4] IPCC. Climate Change 2007: The Phisical Science Basis. Summary for Police makers.
[5] “Cabe destacar que até o final do século XX as mudanças giraram em torno das empresas transnacionais. Em 1985, não mais que 600 destas empresas, cada uma delas com vendas superiores a 1 bilhão de dólares, geraram a quinta parte do valor agregado total (exclusive o ex-bloco socialista) dos setores industrial e agrícola” (Mortimer, 1993, p. 42).
[6] Patel (1995), em pesquisa na qual estudou uma amostra de 600 empresas multinacionais, demonstrou que, no final dos anos 1980, cerca de 60% das firmas não desenvolviam atividades tecnológicas no estrangeiro.
[7] National Association of Securities Dealers, instância que, sob a autoridade da SEC (Security Exchange Comissions), está encarregada de cuidar da regulamentação e da segurança das transações na bolsa Nasdaq.
[8] Algumas associações e ONGs já tomaram a si a responsabilidade de propor medidas capazes de atingir os resultados da emissão de CO2, como propôs a Associação Virage–Énergie Nord Pas de Calais. Na escala regional, como afirma o documento, agir é tanto mais urgente quando a região é mais vulnerável e o conhecimento real dos problemas nesta escala é muito mais próximo aos cidadãos e às instituições, que deixam de perceber os problemas quando muito abstratos.
[9] Autores como Alfred Marshall e seu aluno e sucessor na cátedra de Economia Política em Cambridge, Arthur Cecil Pigou, também intitulados de economistas neoclássicos, tiveram preocupações com questões sociais e defenderam a intervenção do Estado em áreas onde existiriam “falhas de mercado”. Pigou, inclusive, desafiou doutrinas econômicas vigentes e a tradição neoclássica em relação à substituição da ação industrial privada pela do Estado. Os seus trabalhos, portanto, ficaram conhecidos como Economia do Bem-Estar (Welfare Economics).
[10] Por democracia real estamos nos referindo aos processos de participação política ampla, que representem também maior participação na distribuição do produto e das relações de poder.
Referências
AGLIETTA, M. 2003. “La régulation du capitalisme mondial en débat”. Problèmes Economiques, Paris, 28, n. 2.811, p. 15-21.
BERNAL, J.D. 1967 [1939]. The Social Function of Science. Londres: Routledge and Kegan Paul e MIT Press.
CHESNAIS, F. 2004. La finance mondialisée. Paris: Éditions la Découverte.
-----. 2003a. “Racines, genèse et conséquences du Krach boursier rampant” (1ère. partie). Carré Rouge, n. 23, p. 11-24.
-----. 2003b. “After the Stock Market Turnabout: Questions and Hypotheses”. Paris: Université Paris Nord XIII, (mimeo).
COSTA LIMA, M. 2002. “Raízes da miséria no Brasil”. In: LIMA Jr., J.B.; ZETTERSTROOM, L. (Orgs.) Extrema pobreza no Brasil. A situação do direito à alimentação e moradia adequada. São Paulo: Edições Loyola, p. 11-49.
FONTAINE, G.; van VILLET, G.; PASQUIS, R. 2006. “Experiencias recientes y retos para las políticas ambientales en América Latina”. 52º Congreso Internacional de Americanistas. Sevilha.
FREEMAN, C. 1992. The Economics of Hope. Londres: Pinter Publishers.
-----. 1998. “Introduction”. In: DOSI, G.; FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVERBERG, G.; SOETE, L. (Eds.). Technical Change and Economic Theory. Londres: Pinter Publishers, p. 1-8.
-----. 1987. Technology Policy and Economic Performance: Lessons From Japan. Londres: Pinter Publishers.
FREEMAN, C.; SOETE, L. 1991. Analyse macro-économique et sectorielle des perspectives d’ emploi et de formation dans le domaine des nouvelles technologies de l’information dans la Communauté Europeènn. Rapport de Synthèse.
FREEMAN, C.; PEREZ, C. 1998. “Structural crises and adjustements”. In: DOSI, G.; FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVEBERG, G.; SOETE, L. (Eds.). Technical Change and Economic Theory, cit.
GADREY, J. 2000. Nouvelle économie, nouveau mythe? Paris: Flammarion.
KING, A. 1974. Science and Policy. The Intercontinental Stimulus. Oxford: Oxford University Press.
MORTIMER, M. 1992. “El nuevo ordem industrial internacional”. Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, n. 4, p. 41-63.
MOUNIER, A. 2003. “Capital humain et croissance. Dévéloppement des croissances où aprauvrissement de la pensée”. In: DOCKES, P. (Ed.). Ordre et désordre dans l’économie-monde. Paris: PUF, p. 359-87.
NELSON, R.; ROSENBERG, N. 1993. “Technical Innovation and National Systems”. In: NELSON, R. (Ed.). National Innovation Systems. Oxford: Oxford University Press, p. 3-21.
ORSI, F.; CORIAT, B. 2003. “Droits de proprieté intelectuelle, marchés financiers et innovation. Une configuration soutenable?” La Lettre de la Régulation, n. 45.
PACHAURI, R. 2008. “Speech of the IPCC Chairman at the World Economic Fórum in Davos”. Sessão de abertura, 23 jan.
PATEL, P. 1995. “Localised Production of Technology for Global Markets”. Cambridge Journal of Economics, n. 191, p. 141-53.
PATEL, P.; VEGA, M. 1999. “Patterns of Internationalisation of Corporate Technology: Location vs. Home Country Advantages”. Research Policy, v. 28, n. 2-3.
PATEL, P.; VEGA, M. 1997. “Technological Strategies of Large European Firms, Report for Strategic Analysis for European S&T Policy Intelligence. Targeted Socio-Economic Research Programme”. European Commission.
PATEL, P.; PAVITT, K. 2000. “Les systèmes nationaux d’innovation sous tension: l’internationalisation de la R&D des enterprises”. In: DELAPIERRE, M.; MOATI, P. El Mouhoub: connaissance et mondialisation. Paris: Economica, p. 41-57.
RUIVO, B. 1998. As políticas de ciência e tecnologia e o sistema de investigação. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
SALOMON, J.J. 1977. “Science Policy and the Development of the Science Policy”. In: SPIEGEL-ROSING, I.; PRICE, D.S. (Eds.). Science, Technology and Society. Londres: Sage, p. 43-70.
SIDA/NORAD/DFID. 2000. Panos Media Briefing, n. 38. Swedish International Development Cooperation Agency; Norwegian Agency for Development Cooperation; UK for Internacional Development.
VIRAGE-ENERGIE – NORD PAS DE CALAIS. 2008. Énergies d’ avenir en Nord-Pas de Calais. Quelles solutions au dérèglement climatique. Lille: Association Virage-Énergie Nord – Pas de Calais.
WORLD BANK. 2000. Draft of World Development Report 2000. Washington DC, January.
WORLDWATCH INSTITUTE. 2000. State of the World 1998-99. Washington D.C.
No período 1992-2000, que ficou caracterizado como aquele da “Nova Economia”, os Estados Unidos da América vinham de conhecer a mais longa fase de crescimento ininterrupto de todos os tempos, ao ponto em que alguns analistas declararam que o crescimento havia se tornado estrutural. Alan Greenspan, presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, afirmava em 6 de maio de 1999 que as NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) estavam na origem do essencial dos ganhos de produtividade e do novo crescimento sem inflação [1]. É importante salientar aqui o papel da grande mídia internacional econômica e financeira — da manipulação simbólica —, como suporte e enraizamento do mito da “Nova Economia” como um fenômeno global que privilegia os objetos imateriais (informação, produção intangível e interconexão em rede). Este grande aparato, articulado pelas universidades do mainstream e a “mídia especializada”, não fazia qualquer alusão a outras realidades sociais, de economias deprimidas, estagnadas ou absorvidas pelo endividamento externo, nem tampouco refletia sobre quaisquer problemas, tais como o de saber se estas formas observáveis de desagregação social tinham qualquer relação com a “exuberância irracional” demonstrada, principalmente, pela economia estadunidense.
Seis características desta “Nova Economia” se destacam. Trata-se de uma economia: i) de forte crescimento; ii) baseada na produção de novas tecnologias de informação e comunicação; iii) baseada na expansão dos empregos no setor de serviços; iv) exigente de um nível mais alto de flexibilidade do trabalho e do mercado de trabalho; v) uma economia de mercado profundamente desregulada; vi) exigente de um novo modo de “governo” das empresas. Esta nova forma de governance mantém relações muito estreitas com os mercados financeiros desregulados: livre circulação, livre especulação e desengajamento do Estado (Gadrey, 1960, p. 34).
A lógica interna do processo se daria na seguinte cadeia: o novo crescimento estável e sem inflação é tornado possível pela difusão das NTICs, por um lado, e, por outro, pela flexibilidade e mobilidade do trabalho. As NTICs, por sua vez, aumentam a produtividade, fazem baixar os custos e, portanto, reduzem a inflação, criando desta forma empregos qualificados e estímulos às Bolsas de Valores. Com base neste novo crescimento, o nível de vida progride e a demanda por serviços pessoais aumenta substantivamente, ampliando o emprego de forma massiva e, por conseguinte, reabsorvendo o desemprego. O modelo parece funcionar, no entanto ele só se realiza sob três condições: i) a extensão do mercado concorrencial na direção de atividades e de regiões do mundo que ignoram ainda estes benefícios; ii) um novo modo de governo das empresas que transfere o poder aos acionistas — capitalismo acionista — para que reduzam a rigidez e os custos das burocracias gerenciais; iii) e, sobretudo, mercados financeiros liberalizados e globalizados, os únicos capazes de praticar racionalmente uma performática “seleção das espécies”, conforme expressão de Gadrey (Id., p. 36), que equivale às fusões e aquisições que têm provocado o enriquecimento de poucos e os efeitos perversos para muitos. Já é conhecida e analisada, em muitos de seus aspectos, a falência desta “Nova Economia” (Chesnais, 2003a, p. 11-24), quando a poupança de centenas de milhares de pequenos portadores de ações desapareceu como uma nuvem de fumaça [2].
O impacto desta economia cassino atropelou os trabalhadores, gerou um desemprego estrutural crescente, aboliu conquistas históricas dos trabalhadores, provocou imensos desgastes ambientais, pelo ritmo alucinante do dia a dia na Bolsa de Valores, das bolhas imobiliárias e do mercado dos intangíveis, a produzir sistematicamente desequilíbrios ambientais e sociais de toda ordem (Chesnais, 2003a, p. 13) [3]. O Intergovernamental Panel of Climate Change (IPCC) lançou um relatório em fevereiro de 2007, no qual afirma que “o aquecimento do sistema climático é inequívoco, como agora se torna evidente a partir das observações do crescimento nas médias globais das temperaturas do ar e do oceano, generalizando o degelo de neve e gelo e o aumento do nível do mar. No plano continental, regional ou em escalas oceânicas, foram observadas numerosas mudanças climáticas de longa duração” [4].
O objetivo deste trabalho é aprofundar a articulação entre processos de financeirização, impulso tecnológico e crise ambiental. A partir da Segunda Guerra Mundial, inclusive em decorrência dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a tecnologia militar no período do conflito, ocorreu um substantivo avanço nas tecnologias de transporte, comunicação e informação militar, realizado pelos Estados Unidos da América, que resultou em três características fortes do novo quadro capitalista: i) ampliou-se o conhecimento científico e tecnológico através das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs), que passaram a ser entendidas como geradoras de vantagens competitivas; ii) promoveu-se uma maior integração do espaço econômico no âmbito mundial, seja pela queda sistemática das barreiras alfandegárias, seja pela expansão das corporações multinacionais e pela instrumentalização das NTICs; iii) aumentou a competição entre as empresas multinacionais, atuais controladoras de grandes fatias do mercado mundial [5].
2. A financeirização
Com a configuração contemporânea das relações de propriedade e das relações políticas, essa dinâmica assume como traço essencial a dominação financeira, tornando-se, portanto, necessário aprofundá-la e verificar o seu raio de propagação.
Há mais de trinta anos as finanças deixaram de ser conduzidas pelos governos; passaram então a ser dirigidas pelo mercado, cuja extensão mundial alterava as repercussões das perturbações econômicas entre os países e os riscos ligados à instabilidade dos mercados financeiros. Tais perturbações e riscos passaram a ter grande importância, provocando um contágio generalizado, com efeitos ainda mais dramáticos naqueles países de baixa industrialização e que já acumulavam um elevado endividamento externo. Como afirma argutamente Michel Aglietta (2003, p. 19), “o risco se tornou um traço maior das finanças modernas”.
Para que a análise econômica não venha a subsumir a dimensão da política, das particularidades histórico-culturais e possibilidades nacionais, da ação dos sujeitos políticos capazes de produzirem alternativas ao sistema capitalista vigente, o aporte teórico-analítico introduzido por François Chesnais (2004, 2003b) é fundamental. Aí encontramos uma reflexão madura que, ao articular o fenômeno da mundialização do capital à dimensão da financeirização e à produção do conhecimento, ilumina algumas destas questões.
Para Chesnais, o poder das finanças se construiu sobre o Estado endividado. Sob o efeito das taxas de juros superiores ou muito superiores à inflação, como ao crescimento do PIB, a dívida pública faz “bola de neve”. A subida das taxas é acompanhada de efeitos quase mecânicos de divergência entre os que têm poupança (um excedente com relação ao consumo) e podem comprar ações, títulos, e aqueles que têm nível de renda que não lhes permite poupar. Esta é a primeira etapa do processo da financeirização, que permitiu o caminho às privatizações. A segunda etapa do “regime de acumulação financeira” ocorre quando os dividendos se tornam um mecanismo determinante da apropriação do valor e os mercados de Bolsas, as instituições mais ativas da transferência rentista. As altas taxas de juros provocam, por parte do Estado endividado, fortes pressões fiscais sobre os que recebem menores salários e têm menor mobilidade. Exigem austeridade orçamentária e redução dos gastos públicos.
Assim sintetiza François Chesnais: “O capitalismo contemporâneo busca, indubitavelmente, acentuar e exercer diretamente um controle tanto sobre os lugares como sobre os atores que detêm conhecimentos ou um potencial de criatividade técnica no domínio da produção, do comércio ou da organização”. Mas pergunta ele: “Quem exerce o controle, e em função de quais interesses?” (Chesnais, 2003b, p. 2).
Portanto, para se compreender a dimensão e as implicações desse controle, mas também as resistências, contradições e desperdícios que ele comporta é relevante definir a princípio a configuração específica das relações de produção enquanto relação de propriedade. E, uma vez entendendo que os efeitos da privatização do saber correspondem a um estágio do capitalismo no qual o controle do conhecimento detém um papel central (através, entre outros, dos mecanismos da propriedade intelectual), uma síntese entre uma teoria crítica do capital cognitivo e a crítica do capital patrimonial pode e deve ser esboçada, sob a condição de que a questão da propriedade privada dos meios de pesquisa e de produção seja abordada de frente.
3. As políticas científicas e tecnológicas e os sistemas nacionais de inovação
A ideia de uma política específica relativa à organização da ciência em nível nacional e a atribuição de recursos para a pesquisa são de aplicação recente e vêm do pós- 2ª Guerra mundial, muito embora autores como Bernal (1939) já desenvolvessem, ao final dos anos 30, uma reflexão consistente sobre o papel social da ciência (Freeman, 1992).
O Reino Unido cria em 1945 o Comitee on Future Scientific Policy e, em 1947, o Advisory Council for Social Science Policy. Alexander King afirma que a OCDE, no início dos anos 1960, estabelece o Relatório Piganiol, a primeira apresentação pública do que hoje se designa por “política de ciência” (King, 1974). Também para Salomon (1977), só a partir da 2ª Guerra mundial é que as intervenções públicas para a ciência e a tecnologia adquiriram uma forma explícita, organizada e institucionalizada, dando ao novo campo o reconhecimento através de organismos estatais, com mecanismos, procedimentos e um corpo burocrático e político especialmente dedicado a lidar com C&T. Tanto Salomon como King chamam as tentativas norte-americanas e soviéticas antes desse período de pré-política científica.
De acordo com o trabalho de Piganiol e Villecourt (1963) (Ruivo, 1998), a política científica deveria corresponder a dois objetivos maiores: permitir aos cientistas desenvolverem seus trabalhos de descoberta de explicações para fenômenos ainda incompreendidos e permitir às autoridades públicas e privadas assegurar a utilização desses conhecimentos e orientar certas investigações no interesse do maior número de pessoas. Já Salomon entende por política cientifica as medidas tomadas por um governo para, por um lado, encorajar o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica e, por outro, explorar os resultados da pesquisa, tendo em vista os objetivos de políticas gerais (Ib., p. 65). Vê-se que, neste período, a compreensão da política de C&T incorpora uma visão “idílica” da produção do conhecimento, ainda relegando à sua “apropriação” um caráter secundário.
No início dos anos 60 uma abordagem mais sistemática da inovação tecnológica será desenvolvida, com os trabalhos pioneiros de Nelson, Rosemberg e posteriormente Freeman, Perez, Dosi, entre outros. Nelson, falando do “tecno-nacionalismo”, dizia que ganhava força uma “forte crença”, segundo a qual as capacidades tecnológicas das firmas de uma nação seriam a chave de seu poder competitivo e que estas capacidades, em um sentido nacional, poderiam ser construídas por uma ação interna a cada nação. Esse entendimento e mesmo o clima da época geraram grande interesse nos sistemas nacionais de inovação, entre suas similitudes e diferenças, bem como na dimensão e na forma pela qual estas diferenças explicam a variedade de performances econômicas (Nelson, 1993).
O conceito, ainda na expressão de Nelson, representa um conjunto de instituições cujas interações determinam a performance da inovação das firmas nacionais. O sistema não representa aqui o fato de que as instituições que o constituem ajam coerentemente e de forma tranquila, mas simplesmente que os atores institucionais dele participantes jogam um papel que influencia a inovação.
Por outro lado, em muitos campos da tecnologia, a exemplo dos campos farmacêutico e aeronáutico, um número de instituições é ou age de forma transnacional. Isto levanta inclusive um problema sobre a pertinência do conceito de sistema nacional de inovação, pois, num mundo onde as firmas, os mercados, a tecnologia e os negócios são cada vez mais mundializados, faz sentido ainda hoje falar em sistema nacional de inovação?
A definição de sistema nacional de inovação, como inicialmente proposta por Freeman (1987), o considera uma rede de instituições nos setores público e privado cujas atividades e interações iniciam e difundem a nova tecnologia. A relevância das instituições está diretamente relacionada ao reconhecimento de que uma boa parte do conhecimento incorporado no processo de inovação é tácita e, portanto, se configura em pessoas e instituições. A estrutura institucional científica e tecnológica e a rede (network) de relações de cooperação que apoiam a inovação num país provêm de uma instância em que a questão “quem somos nós?” — o “nós” representando as firmas e instituições imersas numa rede de relacionamentos ativadas para a inovação num determinado país — é de extrema importância. Redes de instituições acumulam conhecimento tecnológico ao longo do tempo e quanto maiores são seus conhecimentos, mais fácil é descobrir e absorver conhecimento novo. A dimensão cumulativa da ciência e da tecnologia provê as bases para crescentes retornos na acumulação de conhecimento e mesmo a persistente aglomeração de atividades tecnológicas particulares em algumas regiões e lugares, na medida em que não são destruídas por mudanças radicais nos paradigmas tecnológicos ou por fortes políticas adversas e atitudes estratégicas de corporações (Freeman & Perez, 1988).
Para Patel e Pavitt (2000), do Science Policy Research Unit da Universidade de Sussex, pode-se definir um sistema nacional de inovação como sendo “a maneira pela qual as instituições são implicadas na produção, na comercialização e na difusão de novos produtos, processos e serviços mais bem-sucedidos (isto é, a mudança técnica), mas também a forma pela qual as estruturas de estímulo e as capacidades destas instituições influenciam a taxa de crescimento e a direção de tais mudanças”.
Patel e Pavitt (2000), em estudo no qual procuram estabelecer os elos institucionais entre as atividades de P&D das firmas e a pesquisa fundamental financiada pelos fundos públicos nas universidades e organismos associados, entendem que os estudos empíricos confirmam a existência de sistemas nacionais de inovação. É neste contexto que examinam as incidências da globalização das atividades das firmas sobre os elos tão privilegiados entre a base cientifica nacional e as atividades nacionais de inovação.
Em pesquisa baseada na análise sistemática de 359 grandes grupos mundiais (entre os 500 maiores da lista da revista Fortune), ativos no plano tecnológico nos anos 1990, Patel e Vega (1997) revelam que as firmas continuam a executar uma proporção elevada de suas atividades de inovação nos seus países de origem. As atividades de inovação das firmas japonesas são as menos mundializadas e aquelas das firmas europeias, as mais mundializadas. Na Europa as atividades tecnológicas das empresas levadas a cabo fora de seus países de origem são maiores para as firmas originárias dos pequenos países (mais de 50% no caso das grandes empresas belgas, holandesas e suíças), que para aquelas originárias dos grandes países (um terço no caso das firmas francesas, alemãs e italianas).
“Do início dos anos 1980 à metade dos anos 1990, as grandes firmas aumentaram a proporção de suas atividades de inovação desenvolvidas fora de seu país de origem em somente 2,4%”. Os autores assinalam ainda que a maior parte do incremento das atividades tecnológicas no estrangeiro foi muito mais uma atividade decorrente das aquisições de outras empresas estrangeiras, do que efetivamente uma reconfiguração internacional das atividades de P&D [6]. A conclusão destes autores é que os sistemas nacionais de inovação, em que uma base científica forte está ligada às grandes firmas nacionais inovadoras e competitivas, se mostram um caminho desejável, seja para o governo, seja para as empresas, seja para a sociedade como um todo, mas é necessário não esquecer que estes sistemas estão cada vez mais submetidos a tensões crescentes provocadas pela mundialização, que tem acarretado: i) liberalização; ii) desigual nível tecnológico entre países; e iii) extensão do número de competências que as firmas devem dominar a cada dia.
4. A colonização do tecnológico pela finança mundializada
François Chesnais (2003b) estabelece uma diferença importante com a escola evolucionista, ao assinalar a hierarquia conquistada e a amplitude dos meios postos em ação pelos Estados Unidos da América e pelos segmentos mais poderosos do capital, no sentido de preservar as relações de dominação política e social e os modos de vida que o acompanham. Portanto, distancia-se dos neoevolucionistas ao colocar como central a determinação política e social do processo de acumulação de capital. A orientação de parte importante do orçamento científico e tecnológico dos EUA para fins militares e, agora, para projetos “totalitários” de apropriação-expropriação do ser vivo “é a manifestação mais evidente, dando um conteúdo sinistro à sociedade que veria o triunfo do capital cognitivo”.
A reflexão realizada por Orsi e Coriat (2003) procurou, na sequência da crise da bolha, do seu impacto sobre a Nasdaq e das inúmeras falências que seguiram a queda das Bolsas, entender o processo de complementaridades construído, principalmente nos EUA, entre um regime de direitos de propriedade intelectual e um conjunto de regulamentações inéditas sobre o mercado financeiro, que permitiram a promoção das chamadas “firmas inovadoras”. Tal reflexão reforça a hipótese de Chesnais sobre o lugar prioritário de análise do financeiro e não do tecnológico.
Os autores examinam a série de mudanças ocorridas nos últimos vinte anos nos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), promovidas pela administração e pela justiça norte-americana. Em primeiro lugar, a abertura do domínio das patentes para novos atores, no caso, as universidades e laboratórios de pesquisa acadêmicos, já que uma nova legislação autorizava o depósito de patentes sobre os produtos de suas pesquisas, quando se trata de instituições financiadas por fundos públicos.
Para Orsi & Coriat, este passo foi dado com a aprovação do Bayh-Dole Act (1980) que introduziu uma série de disposições novas e complementares. A primeira, como já assinalado, foi a autorização para o depósito de patentes sobre os resultados de pesquisas financiadas com fundo público. Por outro lado, abriu-se a possibilidade de cessão dessas patentes sob forma de licenças exclusivas a firmas privadas ou de constituição de joint ventures, associações cujo objetivo será o de tirar partido dos conhecimentos desta forma cedidos, seja para fins de comércio, seja para sua viabilização enquanto produtos comercializáveis. O resultado foi a explosão do número de patentes depositados pelos laboratórios públicos.
O Bayh-Dole Act veio provocar uma mudança fundamental na prática da pesquisa acadêmica, com a formação em todas as grandes universidades norte-americanas dos escritórios de transferência de tecnologia (Technological Transfer Offices). Como consequência direta, estas instâncias passam a jogar um papel decisivo na orientação da pesquisa, com uma ação que privilegia aquelas pesquisas suscetíveis de serem patenteadas no prazo mais curto. Ainda, em numerosos casos, estas ações poderão incidir no retardamento da publicação dos resultados científicos, submetendo-se a publicação a depósitos de patentes prévios. Estes novos procedimentos permitidos pela lei alteram completamente a natureza do entendimento e sentido de “bem público” que revestia até então a informação científica.
Outra mudança forte decorrente do Bayh-Dole Act foi a entrada do capital financeiro no mundo da produção do conhecimento. Em 1984, uma regulamentação da NASD [7] permitiu a colocação no mercado e a cotização de firmas deficitárias, sob a condição que estas disponham de um forte “capital intangível”, que se constitui basicamente de direitos de propriedade intelectual. Outras alterações de dispositivos legislativos foram realizadas, como o prudent man, para permitir que os fundos de pensão fossem autorizados a investir uma parte de seus ativos em títulos de risco, o que antes era proibido. Com isto, viu-se a entrada no mercado de valores financeiros de um conjunto de firmas novas, deficitárias, mas julgadas, em razão de seus ativos intangíveis, como de “alto potencial”.
Foi desta maneira que se criou no mercado norte-americano uma complementaridade institucional entre os mercados financeiros e os Direitos de Propriedade Intelectual, fazendo com que uma boa parcela da “nova economia” encontrasse aqui sua origem. Os resultados nefastos destas medidas estão, em primeiro lugar, na apropriação do processo do conhecimento por firmas privadas e, em segundo lugar, na condução do mesmo por interesses imediatistas, voltados para a mercantilização. Na prática, como já temos visto, tal mercantilização ocorre de forma inaceitável, seja no caso dos fármacos relacionados à Aids, de modo que as populações mais necessitadas não têm acesso aos medicamentos necessários, seja pelo abandono de pesquisas em doenças que atingem os países pobres, de pouco interesse para os grandes oligopólios.
5. O aquecimento global
Em seu 4º Relatório, publicado em 2007, o Grupo Intergovernamental de Experts sobre o Clima (GIEC), com mandato da Organização das Nações Unidas, confirmou o papel de homens e mulheres no aquecimento global, uma constatação importante no curso da 2ª metade do século XX.
A tentativa atual de conter a alta das temperaturas em menos de 2° Celsius, para reduzir o risco de mudanças extremas e dramáticas, representa dividir por mais de duas vezes as emissões mundiais e, portanto, ao menos quatro vezes aquelas emissões dos países ricos, até 2050. Alguns países desenvolvidos estão se engajando no processo, e a França, por exemplo, em 13 de julho de 2005, assinou o objetivo “Fator 4”, do artigo 2° da lei do programa que fixa as articulações da política energética [8]. A virada do milênio presenciou um número recorde de desastres naturais e extremos de calor: inundação em Bangladesh (1996); ciclone em Orissa (Índia, 1996); inundações na Venezuela (1999); tsunami no Oceano Índico (2004); o furacão Katrina que inundou New Orleans em 2005; a grande estiagem do Rio Amazonas em 2006.
O 4º Relatório do IPCC afirma que não houve tendências claras sobre ciclones tropicais e tornados, mas que aumentou a frequência de secas mais intensas e duradouras e de episódios de muita chuva desde 1970. Outro dado é que a temperatura global média do ar aumentou 0,74º C entre 1906 e 2005. Isso significa que a primavera no Hemisfério Norte está sendo antecipada em 10 dias.
Outras conclusões presentes no mesmo relatório são: 11 dos 12 últimos anos foram os mais quentes desde 1850; o nível médio do mar aumentou 1,6 milímetro por ano entre 1993 e 2003 (ao longo do século 20, foram cerca de 17 centímetros); a cobertura de neve e a extensão das geleiras diminuíram nos dois hemisférios; a área máxima coberta sazonalmente por gelo no Hemisfério Norte decresceu 7% desde 1990 (ou seja, os invernos lá estão menos rigorosos).
Estas constatações foram reforçadas no recente pronunciamento de Rajendra Pachauri (2008) perante o Fórum de Davos, quando, baseado no 4° Relatório, afirmou que, se não forem mitigadas, as mudanças climáticas podem ter sérias implicações para o bem-estar econômico da sociedade humana. E apontou dois dos maiores achados do estudo:
• O aquecimento do sistema climático é inequívoco, como fica evidente pelas observações sobre aumento das temperaturas do ar e dos oceanos, amplo derretimento da neve e do gelo e aumento do nível do mar.Conclusões
• Também são mais fortes e agudas as descobertas relacionadas à influência humana sobre a mudança climática transmitidas pelo relatório: a maior parcela dos aumentos nas temperaturas desde a metade do século XX é devida a fatores antropogênicos.
Poder-se-ia continuar com novos exemplos sobre os efeitos do sistema baseado no mercado de consumo, nos combustíveis fósseis e na estrutura do atual capitalismo de corporações e das finanças. Mas é necessário chamar a atenção para o fato de que estes desastres ambientais impactam com muito maior força as regiões e populações da periferia. O Banco Mundial (2000) informa que, entre 1990 e 1998, cerca de 94% dos maiores desastres mundiais ocorreram nos países em desenvolvimento, onde também ocorreram 97% das mortes a eles relacionadas.
Atividades predatórias, que interferem na vida econômica, social e ambiental como o desmatamento, as queimadas, a inexistência de saneamento básico nas áreas da pobreza urbana e rural, a destruição indiscriminada dos manguezais, as construções habitacionais em zonas tidas como non aedificandi, são resultantes da pobreza, da pressão por moradia e da luta pela sobrevivência (Costa Lima, 2002). Esses processos são decorrentes da forma de acumulação vigente no capitalismo, que emprega cada vez menos pessoas nos circuitos formais da produção, provoca ou estimula a obsolescência programada dos produtos industriais num modelo voltado para o consumo de massa. Sabe-se hoje que o grande impacto ambiental, aquele que deteriora massivamente o planeta e gera os desastres ambientais, é oriundo em larga medida dos países centrais, o que não quer dizer que os países periféricos e a forma de desenvolvimento por eles adotada não contribuam para o agravamento do problema.
Nos últimos 50 anos, o total da produção econômica global cresceu de U$ 4.9 trilhões para mais de U$ 29 trilhões, aumentando em seis vezes a riqueza, quando a população mundial aumentou duas vezes (Worldwatch Institute, 2000). Hoje, a escala e o ritmo da produção e do consumo industrial (incluindo a agricultura neles envolvida) estão utilizando os recursos naturais de forma mais rápida do que a natureza pode repor. Estão destruindo os ecossistemas que fornecem serviços vitais e os sistemas que garantem a vida, bem como danificando as funções essenciais da Terra, como a circulação da água, do nitrogênio e do dióxido de carbono. A Terra não tem sido capaz de absorver dejetos, prover os recursos naturais nem manter as reservas de água limpa e de ar tão rapidamente quanto se está demandando.
Do ponto de vista da teoria econômica mainstream, do pragmatismo e da mão invisível, há muito a considerar: por exemplo, recursos como água potável, ar, corais e o mar não podem continuar a ser encarados como se fossem livres e inesgotáveis. Um outro grande problema não enfrentado, na prática, pela grande maioria dos neoclássicos é o longo prazo [9]. Suas decisões são quase sempre relacionadas ao curto prazo, sobretudo porque associadas ao rentismo das Bolsas de Valores. O risco de longo prazo, os custos relacionados aos recursos humanos (mão de obra de baixa qualificação) e ambientais são ignorados na maioria das vezes.
Com relação às políticas ambientais, segundo afirmaram Fontaine, van Vliet e Pasquis (2006, p. 17), fica claro que estas não se restringem nem a um mero problema de gestão nem tampouco a um problema de governo. São muito mais “a combinação de estruturas institucionais (regras do jogo e agentes estatais) com processos participativos que envolvem atores sociais e atores de mercado, que definem as condições de qualidade das políticas públicas”.
Foram aqui explicitados os elementos que demonstram que o capitalismo contemporâneo, com todos os seus avanços tecnológicos, tem sido incapaz de resolver os problemas relacionados ao emprego, à degradação ambiental, ao bem-estar e às condições condignas da maior parcela da população do planeta. A comunidade mundial necessita construir novas instituições, novas interações políticas que sejam capazes de levar a um desenvolvimento alternativo e a uma mudança de paradigma, na direção da equidade, da democracia real e da sustentabilidade ambiental [10]. Esta não é uma tarefa fácil nem ligeira, sobretudo porque uma comunidade mundial só existe a partir de comunidades nacionais que conformam as relações políticas internacionais. E estas comunidades locais, nacionais, regionais e internacionais precisam se inteirar de fato dos desafios atuais, para poder, juntas, construir alternativas viáveis à destruição e à barbárie.
----------
Marcos Costa Lima é professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Este artigo tem o título original de “Capitalismo financeiro, inovação tecnológica e aquecimento global: as relações complementares”.
----------
Notas
[1] “Comumunication to the 35th Annual Conference on Bank Structure and Competition of the Federal Reserve Bank of Chicago”. Problèmes Économiques, 1° dez. 1999.
[2] O Le Monde (22/10/2002) informava que mais de 8 trilhões de dólares foram “queimados” após a segunda metade do ano de 2000.
[3] Chesnais continua: “Nos EUA, 40 milhões de assalariados titulares de um plano de poupança chamado ‘401 K’ tiveram boa parte de suas aposentadorias ameaçadas”.
[4] IPCC. Climate Change 2007: The Phisical Science Basis. Summary for Police makers.
[5] “Cabe destacar que até o final do século XX as mudanças giraram em torno das empresas transnacionais. Em 1985, não mais que 600 destas empresas, cada uma delas com vendas superiores a 1 bilhão de dólares, geraram a quinta parte do valor agregado total (exclusive o ex-bloco socialista) dos setores industrial e agrícola” (Mortimer, 1993, p. 42).
[6] Patel (1995), em pesquisa na qual estudou uma amostra de 600 empresas multinacionais, demonstrou que, no final dos anos 1980, cerca de 60% das firmas não desenvolviam atividades tecnológicas no estrangeiro.
[7] National Association of Securities Dealers, instância que, sob a autoridade da SEC (Security Exchange Comissions), está encarregada de cuidar da regulamentação e da segurança das transações na bolsa Nasdaq.
[8] Algumas associações e ONGs já tomaram a si a responsabilidade de propor medidas capazes de atingir os resultados da emissão de CO2, como propôs a Associação Virage–Énergie Nord Pas de Calais. Na escala regional, como afirma o documento, agir é tanto mais urgente quando a região é mais vulnerável e o conhecimento real dos problemas nesta escala é muito mais próximo aos cidadãos e às instituições, que deixam de perceber os problemas quando muito abstratos.
[9] Autores como Alfred Marshall e seu aluno e sucessor na cátedra de Economia Política em Cambridge, Arthur Cecil Pigou, também intitulados de economistas neoclássicos, tiveram preocupações com questões sociais e defenderam a intervenção do Estado em áreas onde existiriam “falhas de mercado”. Pigou, inclusive, desafiou doutrinas econômicas vigentes e a tradição neoclássica em relação à substituição da ação industrial privada pela do Estado. Os seus trabalhos, portanto, ficaram conhecidos como Economia do Bem-Estar (Welfare Economics).
[10] Por democracia real estamos nos referindo aos processos de participação política ampla, que representem também maior participação na distribuição do produto e das relações de poder.
Referências
AGLIETTA, M. 2003. “La régulation du capitalisme mondial en débat”. Problèmes Economiques, Paris, 28, n. 2.811, p. 15-21.
BERNAL, J.D. 1967 [1939]. The Social Function of Science. Londres: Routledge and Kegan Paul e MIT Press.
CHESNAIS, F. 2004. La finance mondialisée. Paris: Éditions la Découverte.
-----. 2003a. “Racines, genèse et conséquences du Krach boursier rampant” (1ère. partie). Carré Rouge, n. 23, p. 11-24.
-----. 2003b. “After the Stock Market Turnabout: Questions and Hypotheses”. Paris: Université Paris Nord XIII, (mimeo).
COSTA LIMA, M. 2002. “Raízes da miséria no Brasil”. In: LIMA Jr., J.B.; ZETTERSTROOM, L. (Orgs.) Extrema pobreza no Brasil. A situação do direito à alimentação e moradia adequada. São Paulo: Edições Loyola, p. 11-49.
FONTAINE, G.; van VILLET, G.; PASQUIS, R. 2006. “Experiencias recientes y retos para las políticas ambientales en América Latina”. 52º Congreso Internacional de Americanistas. Sevilha.
FREEMAN, C. 1992. The Economics of Hope. Londres: Pinter Publishers.
-----. 1998. “Introduction”. In: DOSI, G.; FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVERBERG, G.; SOETE, L. (Eds.). Technical Change and Economic Theory. Londres: Pinter Publishers, p. 1-8.
-----. 1987. Technology Policy and Economic Performance: Lessons From Japan. Londres: Pinter Publishers.
FREEMAN, C.; SOETE, L. 1991. Analyse macro-économique et sectorielle des perspectives d’ emploi et de formation dans le domaine des nouvelles technologies de l’information dans la Communauté Europeènn. Rapport de Synthèse.
FREEMAN, C.; PEREZ, C. 1998. “Structural crises and adjustements”. In: DOSI, G.; FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVEBERG, G.; SOETE, L. (Eds.). Technical Change and Economic Theory, cit.
GADREY, J. 2000. Nouvelle économie, nouveau mythe? Paris: Flammarion.
KING, A. 1974. Science and Policy. The Intercontinental Stimulus. Oxford: Oxford University Press.
MORTIMER, M. 1992. “El nuevo ordem industrial internacional”. Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, n. 4, p. 41-63.
MOUNIER, A. 2003. “Capital humain et croissance. Dévéloppement des croissances où aprauvrissement de la pensée”. In: DOCKES, P. (Ed.). Ordre et désordre dans l’économie-monde. Paris: PUF, p. 359-87.
NELSON, R.; ROSENBERG, N. 1993. “Technical Innovation and National Systems”. In: NELSON, R. (Ed.). National Innovation Systems. Oxford: Oxford University Press, p. 3-21.
ORSI, F.; CORIAT, B. 2003. “Droits de proprieté intelectuelle, marchés financiers et innovation. Une configuration soutenable?” La Lettre de la Régulation, n. 45.
PACHAURI, R. 2008. “Speech of the IPCC Chairman at the World Economic Fórum in Davos”. Sessão de abertura, 23 jan.
PATEL, P. 1995. “Localised Production of Technology for Global Markets”. Cambridge Journal of Economics, n. 191, p. 141-53.
PATEL, P.; VEGA, M. 1999. “Patterns of Internationalisation of Corporate Technology: Location vs. Home Country Advantages”. Research Policy, v. 28, n. 2-3.
PATEL, P.; VEGA, M. 1997. “Technological Strategies of Large European Firms, Report for Strategic Analysis for European S&T Policy Intelligence. Targeted Socio-Economic Research Programme”. European Commission.
PATEL, P.; PAVITT, K. 2000. “Les systèmes nationaux d’innovation sous tension: l’internationalisation de la R&D des enterprises”. In: DELAPIERRE, M.; MOATI, P. El Mouhoub: connaissance et mondialisation. Paris: Economica, p. 41-57.
RUIVO, B. 1998. As políticas de ciência e tecnologia e o sistema de investigação. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
SALOMON, J.J. 1977. “Science Policy and the Development of the Science Policy”. In: SPIEGEL-ROSING, I.; PRICE, D.S. (Eds.). Science, Technology and Society. Londres: Sage, p. 43-70.
SIDA/NORAD/DFID. 2000. Panos Media Briefing, n. 38. Swedish International Development Cooperation Agency; Norwegian Agency for Development Cooperation; UK for Internacional Development.
VIRAGE-ENERGIE – NORD PAS DE CALAIS. 2008. Énergies d’ avenir en Nord-Pas de Calais. Quelles solutions au dérèglement climatique. Lille: Association Virage-Énergie Nord – Pas de Calais.
WORLD BANK. 2000. Draft of World Development Report 2000. Washington DC, January.
WORLDWATCH INSTITUTE. 2000. State of the World 1998-99. Washington D.C.
Fonte: Especial para Gramsci e o Brasil.
Carlos Nelson Coutinho (1943-2012)
Luiz Sérgio Henriques
- Setembro 2012
Nascido em Itabuna, na
Bahia, em 1943, morreu nesta manhã de 20 de setembro, no Rio de Janeiro,
o filósofo e cientista político Carlos Nelson Coutinho. Professor
emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde lecionava na
Escola de Serviço Social, Carlos Nelson deixa um legado amplo na área da
produção cultural e também na área política.
Militante do PCB por muitos anos, desde a juventude, Carlos Nelson escreveu mais de uma dezena de livros, a começar por Literatura e humanismo, lançado no final dos anos 1960 pela Editora Civilização Brasileira, de Ênio Silveira. Em Literatura e humanismo, já estão presentes algumas qualidades que o distinguiriam nos anos seguintes, como a clareza de pensamento, a escrita elegante e a percepção refinada de autores fundamentais, como atesta o ensaio sobre Graciliano Ramos. Também neste livro inaugural está presente a influência decisiva do filósofo húngaro Georg Lukács, cujas ideias sobre o realismo norteavam as pesquisas do então jovem crítico brasileiro.
Nos anos 1970, Carlos Nelson conheceu o exílio em Bolonha — terra em que se afirmara por décadas o seu amado Partido Comunista Italiano, outra das referências político-intelectuais imprescindíveis para entender o nosso autor — e, posteriormente, em Paris. Foi membro eminente do “grupo de Armênio Guedes”, que, dentro do PCB, buscava a renovação do nosso comunismo a partir da questão democrática, vista — a democracia — também como a alternativa mais produtiva aos caminhos e descaminhos da modernização “prussiana” do capitalismo brasileiro, que havia conhecido um novo impulso a partir da ditadura implantada em 1964.
Neste sentido, Carlos Nelson se notabilizou, já na volta do exílio, pelo ensaio “A democracia como valor universal”, fortemente inovador na cultura comunista, exatamente por ter como assumida fonte de inspiração o pensamento político amadurecido em torno do antigo PCI, muito especialmente Enrico Berlinguer e Pietro Ingrao. Difícil subestimar o papel deste ensaio, sobre o qual, posteriormente, o próprio autor se voltaria em diferentes ocasiões, ratificando-o e retificando-o em variados pontos: esta é, precisamente, a função de um ensaio seminal.
Neste período imediatamente depois do exílio, incorporou-se vigorosamente à reflexão de Carlos Nelson a presença de Antonio Gramsci: pode-se dizer que, a partir de uma original articulação de Lukács e Gramsci — isto é, dos problemas da ontologia do ser social e da política tal como experimentada nos países “ocidentais” —, tenha se estruturado a produção posterior de Carlos Nelson Coutinho, até o livro mais recente, De Rousseau a Gramsci. Ensaios de teoria política, publicado em 2011.
Nos últimos meses, mesmo abalado pela doença, Carlos Nelson dedicava-se a uma história da filosofia, testemunho da enorme erudição e inquietação intelectual que o acompanhou por toda a vida. Nos anos 1980, com a crise do PCB e o afastamento de grande parte dos “eurocomunistas” brasileiros, Carlos Nelson passaria pelo PSB (expressão do seu interesse pelo socialismo democrático, uma vez que o PSB de Carlos Nelson era aquele histórico, do pós-1945, marcado por figuras como Hermes Lima e João Mangabeira), pelo PT e, a partir de 2003, pelo PSOL. Estas opções políticas, naturalmente, deixaram marca na produção teórica do nosso autor, que está destinada a ser tema de estudos e reflexões por parte de todos aqueles que se preocupam com o destino do humanismo, da democracia e do socialismo no nosso tempo.
----------
Luiz Sérgio Henriques é o editor de Gramsci e o Brasil.
----------
Artigos relacionados:
Militante do PCB por muitos anos, desde a juventude, Carlos Nelson escreveu mais de uma dezena de livros, a começar por Literatura e humanismo, lançado no final dos anos 1960 pela Editora Civilização Brasileira, de Ênio Silveira. Em Literatura e humanismo, já estão presentes algumas qualidades que o distinguiriam nos anos seguintes, como a clareza de pensamento, a escrita elegante e a percepção refinada de autores fundamentais, como atesta o ensaio sobre Graciliano Ramos. Também neste livro inaugural está presente a influência decisiva do filósofo húngaro Georg Lukács, cujas ideias sobre o realismo norteavam as pesquisas do então jovem crítico brasileiro.
Nos anos 1970, Carlos Nelson conheceu o exílio em Bolonha — terra em que se afirmara por décadas o seu amado Partido Comunista Italiano, outra das referências político-intelectuais imprescindíveis para entender o nosso autor — e, posteriormente, em Paris. Foi membro eminente do “grupo de Armênio Guedes”, que, dentro do PCB, buscava a renovação do nosso comunismo a partir da questão democrática, vista — a democracia — também como a alternativa mais produtiva aos caminhos e descaminhos da modernização “prussiana” do capitalismo brasileiro, que havia conhecido um novo impulso a partir da ditadura implantada em 1964.
Neste sentido, Carlos Nelson se notabilizou, já na volta do exílio, pelo ensaio “A democracia como valor universal”, fortemente inovador na cultura comunista, exatamente por ter como assumida fonte de inspiração o pensamento político amadurecido em torno do antigo PCI, muito especialmente Enrico Berlinguer e Pietro Ingrao. Difícil subestimar o papel deste ensaio, sobre o qual, posteriormente, o próprio autor se voltaria em diferentes ocasiões, ratificando-o e retificando-o em variados pontos: esta é, precisamente, a função de um ensaio seminal.
Neste período imediatamente depois do exílio, incorporou-se vigorosamente à reflexão de Carlos Nelson a presença de Antonio Gramsci: pode-se dizer que, a partir de uma original articulação de Lukács e Gramsci — isto é, dos problemas da ontologia do ser social e da política tal como experimentada nos países “ocidentais” —, tenha se estruturado a produção posterior de Carlos Nelson Coutinho, até o livro mais recente, De Rousseau a Gramsci. Ensaios de teoria política, publicado em 2011.
Nos últimos meses, mesmo abalado pela doença, Carlos Nelson dedicava-se a uma história da filosofia, testemunho da enorme erudição e inquietação intelectual que o acompanhou por toda a vida. Nos anos 1980, com a crise do PCB e o afastamento de grande parte dos “eurocomunistas” brasileiros, Carlos Nelson passaria pelo PSB (expressão do seu interesse pelo socialismo democrático, uma vez que o PSB de Carlos Nelson era aquele histórico, do pós-1945, marcado por figuras como Hermes Lima e João Mangabeira), pelo PT e, a partir de 2003, pelo PSOL. Estas opções políticas, naturalmente, deixaram marca na produção teórica do nosso autor, que está destinada a ser tema de estudos e reflexões por parte de todos aqueles que se preocupam com o destino do humanismo, da democracia e do socialismo no nosso tempo.
----------
Luiz Sérgio Henriques é o editor de Gramsci e o Brasil.
----------
Artigos relacionados:
Marxismo, intelectuais e a democracia
Adeus, Carlos Nelson
Fonte: Especial para Gramsci e o Brasil.
Assinar:
Postagens (Atom)